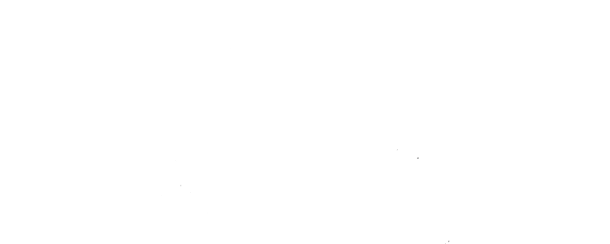RETROSPECTIVA PHILIPPE GARREL > TEXTOS
Philippe Garrel, o profeta e o escriba*
Philippe
Garrel surgiu precocemente de uma maneira intempestiva no cinema como
uma espécie de criança perdida da Nouvelle Vague e da
poesia moderna. Seu primeiro curta metragem, Les
enfants désaccordés (1964),
coloca dois adolescentes rimbaldianos em uma fuga iniciática
em busca da utopia, fato inexplicável aos olhos da sociedade
sob De Gaulle, paralelamente aos discursos de um punhado de adultos
filmados come se fossem falsas entrevistas de televisão.
Imediatamente, Garrel, jovem
desajustado,
como seus dois heróis, parte à procura de uma nova
linguagem, de uma nova língua que atravessa tanto
encadeamentos de posturas inéditas, palavras reinventadas,
quanto figuras de estilo impetuosas – descontinuidades na
montagem, conexões irracionais, narração com
lacunas, silêncios e gritos, mudanças espontâneas
de assunto... Seguindo o olhar dessa liberdade conquistada, o ponto
de vista da sociedade, enquadrado pela pequena tela da televisão,
aparece como de fato é, quer dizer, uma série de
clichês, com exceção do discurso de Maurice
Garrel, pai do cineasta e desde já figura tutelar de seu
cinema, preso na ambiguidade, pré maio de 1968, de um discurso
ao mesmo tempo compreensivo e impotente.
Após
essa formidável primeira tentativa, nunca mais a sociedade se
expressará, como se as palavras congeladas através das
quais se exprimia estivessem definitivamente datadas, como se a
conquista da liberdade, que é também aquela de um
sentido que escapa à estrita evidência de um suposto bom
senso das palavras e imagens, a tivessem rechaçado para fora
do cinema de Garrel. Portanto, é preciso se resguardar ao
simplificar a experiência. Essa aspiração de
mudar o cinema, mudando a vida, viver o cinema além de todas
as limitações é, desde Marie
pour memoire (1967),
o primeiro longa de Garrel, impedida, travada e minada no seu
interior. Marie
pour memoire,
filme que deve muito a Godard e ao qual Godard deve muito, é
uma síntese de palavras e gestos – palavras e gestos se
confundindo frequentemente – que explode pouco antes de maio de
1968. Slogans, glossolalias, silêncios, monólogos
interiores e exteriores, contos, gritos, sussurros, recusas, sonhos,
repetições, crises de risos, jet
lag,
rituais, interrogatórios, a palavra-gesto é então
captada em todos os estados, instaurando uma brecha na comunicação
que é também a desmesura do tédio, do social, da
psicanálise, da política mesmo. Nessa época, a
palavra como o cinema são para Garrel intransitivos, ou seja,
uma substância irredutível à codificação
dos sentidos. Os sujeitos, corpos e língua, são
atravessados por esta palavra intransitiva que os transformam
mediunicamente em uma experiência muito singular. O que se
chamou de cinema de poesia, ou o cinema como experiência
herética, para retomar os termos de Pasolini, e do qual Garrel
é um dos aventureiros mais audaciosos. Mas, ao mesmo tempo que
ele desdobra em metamorfose essa palavra-cinema, Garrel revela sua
parte sufocada, a incapacidade que traz consigo mesmo em encontrar o
seu destino, sendo ela tão misteriosa, e principalmente, o
risco de sua perda, de sua dissolução, de sua
destruição, através da loucura, o nonsense,
a afasia.
+
LEIA MAIS
O
cinema de Garrel é, nesta época que parece hoje tão
distante – fim dos anos 1960/começo dos anos 1970 –
atravessado por figuras místicas parecidas muito
frequentemente com Jesus e Maria, mas Jesus e Maria arcaicos,
captados antes de se mostrarem pela lenda, pela celebridade, pelo
Evangelho. Marie
pour memoire, Le
lit de la vierge (1969),
Le révélateur (1968)
lhes
fazem diretamente referência mas diremos mesmo assim que o
cinema de Garrel, bem afastado da piedade, tende, nesse período,
a uma palavra profética, inspirada, soprada, uma palavra
joânica de uma certa forma, no sentido em que o apóstolo
João, figura da mística incodificável, se opõe
a Paulo, o escriba que escreve uma narrativa intimada a dar conta dos
sentidos. É o personagem cristão do Le
lit de la vierge,
encarnado por Pierre Clémenti, emblema psicodélico, que
é a mais bela figura joânica do cinema de Garrel, o
inspirado que prega no deserto, mas a quem as palavram faltam
literalmente. No Le
lit de la vierge,
Garrel filma a palavra mística ao pé da letra, quer
dizer uma palavra esotérica que se define pela sua ausência,
pelo o que lhe falta, pelo o que a sufoca literalmente, incapaz de
dizer e ser ouvida. O profeta fracassa e é condenado a vagar
pelo deserto. É a experiência que Garrel vai provar ele
mesmo na sua trajetória de cineasta.
Tudo
acontece como se Garrel tivesse, nos seus primeiros filmes, esgotado
a palavra e que procurasse, por todos os meios, sair do círculo
vicioso de sua impotência. A partir da La
cicatrice intérieure (1972),
Garrel
concebe o cinema como uma forma de invocação, de
cerimonial, de ritual, de transe, de magia. Nisso, ele se aproxima,
por meios, amiúde e radicalmente diferentes, da experiência
de Kenneth Anger tal como descreve Olivier Assayas – aliás
grande admirador de Garrel e a quem faz homenagem em L’eau
froid,
no seu formidável ensaio sobre o cineasta americano. A música
lancinante e hipnótica de Nico, as panorâmicas de 360
graus, o êxtase e a duração, a beleza glacial dos
espaços insondáveis e desérticos, os gritos,
tudo deve fazer do plano, do filme, uma cerimônia. É a
época também em que, muito logicamente, Garrel, após
uma primeira experiência em Le
révélateur,
é tentado pelo cinema mudo onde o cinema é inteiramente
cerimonial. Cinema primitivo, retorno às origens, magia do
gesto se substituindo à palavra. Athanor
(1972),
o mais mágico, Les
hautes solitudes (1974),
o mais belo e o mais falado, Le
bleu des origines (1978),
o mais afásico. Esse êxtase radical conduzirá,
sabemos, Garrel a uma forma de asfixia, até mesmo de
aniquilamento, como se, tal um Ícaro do cinematógrafo,
ele tivesse corrido o risco de queimar as asas no fogo do silêncio,
do transe, do incodificável...
Dessa
travessia do deserto, o cineasta francês mais importante, com
Jean Eustache e Maurice Pialat da geração pós
Nouvelle Vague, lançará um filme magnífico,
L’enfant
secret (1979),
uma espécie de retomada em direção à
palavra, enfeitiçado pela loucura, o silêncio, a
separação, a fratura do casal. Dando as costas à
tentação joânica, Garrel vai pouco a pouco pender
para o lado da tradição paulina, tornando-se por sua
vez o escriba de sua própria autobiografia, da qual ele
transformará no tema da maior parte de suas obras a partir de
Rue
Fontaine (1984),
o episódio de Paris
vu par...
Com a ajuda de Marc Cholodenko, Garrel redescobre um certo peso das
palavras, tão distante da palavra perdulária de Marie
pour memóire
quanto do silêncio dos espaços vazios dos anos 1970,
guardando, no entanto, pela concisão, concentração,
pelo caráter denso e literal, pela economia de meios, um pouco
como em Bresson, uma afinidade muito grande com a poesia. A partir
dos anos 1980, o cinema de Garrel é povoado de mortos, de
espectros, de fantasmas, mas também de sobreviventes, habitado
por um passado que ele faz questão de transcrever
fidedignamente. Os suicidas, os dois Joãos, Seberg e Eustache,
assombram Rue
Fontaine,
onde Jean-Pierre Léaud, em um extraordinário monólogo
catártico e quase cômico, tenta desesperadamente
continuar vivo, enquanto que, em Liberté,
la nuit (1983),
Les baisers de secours (1988) ou Le couer fantôme (1996),
o eterno sobrevivente, Maurice Garrel, volta a transmitir o que resta
a transmitir, ou seja a energia do ator, um certo gosto do teatro e
uma espécie de modo de vida que toma às vezes a forma
de uma polidez do desespero. É a morte trabalhando e o
trabalho corrosivo e destruidor do tempo que dão a forma
romanesca, fragmentária e seca mas também carregada de
sonho e traduzida do silêncio, ao cinema de Garrel desses dez
ou quinze últimos anos, dos quais o mais belo exemplo é
sem nenhuma dúvida J’entends
plus la guitare (1991),
e
que atinge o seu ápice na cena de confrontação,
perto do final do filme, entre Marianne-Johanna Ter Steege, o
espectro, e Brigitte Sy, sequência que se termina em um close
insistente sobre o rosto marejado de lágrimas de Marianne,
enquanto que o fantasma de Nico, sob a forma de uma música
espectral saída de não se sabe onde, vem possuir seu
corpo antes que ela desapareça definitivamente do filme.
Cinema como arte de fazer retornar os fantasmas...
No
seu filme, Le
vent de la nuit (1999),
Garrel concentra e satura os personagens de seu cinema de prosa
poética, este que ele pratica com uma simplicidade desarmada e
desarmadora há alguns anos, mas elevando-os a um nível
de mito. O encontro entre Daniel Duval e Xavier Beauvois materializa
a coexistência e a disjunção entre a tentação
poética e a necessidade da narrativa, entre São João
e São Paulo. Pois no fundo, o personagem de Duval é um
inspirado, uma espécie de místico, um de seus profetas
da tradição cristã cara ao Garrel do final dos
anos 1960, salvo que aqui, o sopro que o anima é como extinto,
sua palavra é longínqua, como se fosse invadida por um
silêncio ensurdecedor, sua presença é
rigorosamente fantasmagórica como se reunisse nele todos os
fantasmas que retornam em cada filme para assombrar o cinema de
Garrel.
De
início, Xavier Beauvois é um escriba balbuciante que
tenta escrever a história a partir dos aforismas enigmáticos
do inspirado, mas a história é tanto um mito quanto
realidade e se Duval evoca maio de 1968, é um pouco à
maneira do Debord de In
girum imus nocte et consumimur igni,
quer dizer, com uma consciência aguda de que a potência
da enunciação importa mais do que a narrativa
propriamente dita, sobretudo se nos prepararmos para desaparecer.
Mítica e fragmentada, como organizada em algumas fases
decisivas, a história, individual e coletiva, que acolhe
Beauvois não é mais decifrável ao nível
dos fatos, política ou autobiograficamente, mas somente no que
concerne uma atitude moral face ao tempo e ao mundo. Por sua forma
concentrada e econômica, Le
vent de la nuit é,
para Garrel, um filme-somatória que leva todas as contradições
que atravessam o seu cinema ao ponto de incandescência. O
visível e o invisível, João e Paulo, o
fantasmagórico e o carnal, o romance e a poesia, tudo está
reunido num gesto único e decisivo.
Thierry Jousse**
* Artigo originalmente publicado na revista Cahiers du Cinéma #533, em março de 1999. Publicação autorizada e gentilmente cedida por Thierry Jousse.
** Thierry Jousse é crítico e realizador francês. Foi editor da Cahiers du cinéma entre 1991 e 1996. Dirigiu os longas Je suis un no man's land (2010) e Les invisibles (2005); e os curtas Julia et les hommes (2003), Nom de code: Sacha e Le jour de Noël (1998). Também escreve sobre música para revistas e colabora com programas de rádio.