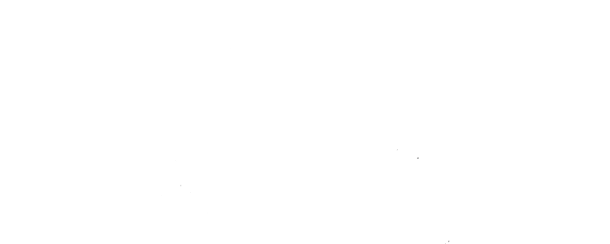Fazer
um filme não é escrever um livro. Quando você
escreve um romance sobre personagens ou lugares que realmente
existiram, são personagens verdadeiros que você coloca
em cena. No cinema, esses personagens são interpretados. Essa
interpretação é uma simulação.
Inventa-se um campo entre o roteiro e a atuação. Quando
a forma pela qual esse campo é manipulado, desagrada aos
críticos, esses últimos trazem à tona o termo do
naturalismo. Eles reprovam a cópia. Eles veem lá o
embuste.
Godard
havia resolvido esta questão. Ele encontrara a solução
ao filmar no presente, criando a cena de manhã, ao chegar no
set.
Antes, não havia nada. A mulher dele chegava, ele se colocava
atrás da câmera e fazia o plano. Estávamos no
presente, no “presente real”, e essa força, esse
imediatismo, anulava todo naturalismo. É o que ele conseguiu,
e que ninguém conseguiu fazer igual.
Esse
lugar no cinema é comparável, na pintura, com
Caravaggio, com La Tour (referindo-se ao pintor Georges de La Tour),
quer dizer no início da “pintura do amor”, quando
as figuras santas eram interpretadas por pessoas verdadeiras, e
amiúde por pessoas amadas. Pouco a pouco, abandonou-se os
santos, são somente homens e mulheres, aí então
se deu o advento da “pintura do amor”: ou seja, da
primeira modernidade. Da mesma forma que houve um momento na pintura
clássica no qual ela se liberta da Igreja, Godard levou o
cinema à sua primeira modernidade.
Do
naturalismo não consigo escapar completamente mesmo se luto
contra, porque a partir da minha autobiografia, eu crio uma narrativa
romanesca.
O
que você entende por romanesco?
A
história que me aconteceu não é nada mais do que
o inconsciente daquilo que relato. A partir daí, eu invento
completamente: eu entrego a história à ficção.
Eu faço o máximo para tornar esse inconsciente
romanesco. Eu o modifico completamente. Não procuro de jeito
nenhum reconstituir conforme o que se passou. Quando o filme termina,
o primeiro defeito que me salta aos olhos é o naturalismo, em
algum lugar onde não modifiquei o bastante.
O
que seria, por exemplo, na sua obra, uma cena demasiadamente
naturalista?
Esses
momentos nos quais a cena quase toca o real mas é como se
parecesse falso em relação àquilo que realmente
aconteceu.... Mesmo quando dá certo, acontece que o ato na
cena é tão preciso e tão forte que podemos
sentir que isto vem do real, que isto teve um lugar. A pessoa atrás
da câmera começa a falar de coisas que lhe aconteceu.
Sugere-se grandes atores para interpretar, mas se trata de alguma
coisa que se passou na própria vida do diretor. A
reconstituição é então falsa. Essa
“falsidade” permite precisamente que a crítica
possa me atacar. É o fracasso do cinema, digamos. O fracasso
do cinema para as pessoas que querem um pouco de poesia. E eu não
sou capaz de impedir isso completamente, porque só aparece
para mim depois. Eu não vejo, não sinto no momento da
filmagem.
A
sua escolha, já há algum tempo, pela tomada única
tem a ver com isso? Seria um meio de evitar o naturalismo?
Não,
pois isso não o evita. É outra coisa. Eu filmo em
tomada única para que todos atuem perfeitamente, para que todo
mundo esteja concentrado no mesmo momento para atuar no plano. Há,
nesse momento, quando os atores atuam pela primeira vez, enquanto a
câmera roda, uma espécie de apreensão (eles não
sabem como as coisas vão acontecer nos próximos cinco
segundos) que corresponde à apreensão da existência.
É uma questão que tem a ver com a performance do ator,
já a crítica ao naturalismo não é uma
questão de atores, mas de encenação e roteiro.
Esse
perigo do naturalismo, você tem a impressão de ter
confrontado a partir de L’enfant secret (A criança
secreta), ou seja, no momento em que você introduziu a
narrativa nos seus filmes?
Talvez
você tenha razão. Tivemos a audácia, Chantal
Akerman, Werner Schroter e eu também, porque éramos
Godardianos.
Herdamos de Godard a forma de chegar no set
de filmagem e improvisar a partir de uma cena escrita na véspera.
Ao ator entregávamos três frases do diálogo para
que ele dormisse com elas na cabeça. Fiz todo o Lit
de la vierge (O leito da virgem),
em 1969, desse jeito. Chegávamos numa locação e
no dia seguinte decidíamos sobre a cena com os assistentes.
Fazíamos o trabalho com a equipe, sem roteiro. Depois mais
tarde, retomamos o roteiro: eu, em 1979 com L’enfant
secret (A criança secreta),
Chantal Akerman um pouco antes com Jeanne
Dielman
que era muito roteirizado. E Schroter, mais ou menos na mesma época
que eu, com Le
Règne de Naples,
que é sua obra prima.
Historicamente,
a quê se deve esse retorno ao roteiro?
A
crise do petróleo em 1973-75 destruiu economicamente tudo, e a
consequência foi a impossibilidade de se obter financiamentos
para filmar, sem uma base escrita, ou um roteiro que se pudesse ler,
inclusive junto aos laboratórios. Nós não
combinamos, mas é notável o fato de que nós
todos, ao mesmo tempo, aparecemos com um roteiro do qual faríamos
nossos filmes. Esses roteiros, e esse foi o perigo, nos descrevia
enquanto indivíduos, mesmo se havíamos tido a precaução
de nos esconder sob romances, sob personagens, sob ficções
ou sob histórias metafóricas. Só falamos bem
daquilo que conhecemos bem, mas isso não impede uma
necessidade de falar dessas coisas de uma forma diferente, escrever
com a câmera e estar atento para não cair na
reconstituição.
No
entanto, você brincou com o fogo incessantemente, construindo
os seus filmes a partir de elementos oriundos de sua própria
vida. Pode-se dizer que seus filmes ao exorcizar momentos...
Porque
precisamos dizer tudo. No final da vida, deveríamos ter dito
tudo. E como o cinema é uma arte figurativa, ao dizer tudo,
explodimos o tempo todo.
Precisamos
dizer tudo? O cinema seria da ordem da confissão?
Quando
eu estava na oitava série, pensava que advogado e diretor de
cinema eram, digamos assim, equivalentes. Há um filme genial
que fala disso: Maridos
e Esposas,
de Woody Allen. Ele se separa de Mia Farrow, e a filma pela última
vez. Temos a impressão que ele vai ao tribunal para se
divorciar com a sua câmera no ombro. Ele faz exatamente como
Andy Warhol que, ao invés de dizer bom dia, prefere se filmar
dizendo bom dia. Woody Allen fez a mesma coisa, ele acompanhou a
pessoa que mais o fez sofrer e a quem mais fez sofrer, já que
o amor deles acabou, e ele se filma. A tal ponto que temos vontade de
lhe dizer: “Proteja-se, é muito grave o que está
acontecendo”. O filme não se passa em um tribunal, mas é
assombrado pelo processo. Os apartamentos tornam-se lugares do
processo. É fantástico isso. É uma maneira
fantástica de reintroduzir o presente porque não há
mais diferença entre o cinema e a vida. Nesse momento, Woody
Allen não está longe de Godard.
Mas,
no seu caso, como você faz para quebrar o naturalismo no
interior desse processo de auscultação daquilo que
aconteceu com você?
Isso
começa na concepção do personagem. No meu
cinema, jamais um personagem foi construído a partir de uma
pessoa apenas. É uma lei ditada por Proust: para que um
personagem de mulher seja sólido, ele deve ser inspirado por
duas mulheres diferentes. Às vezes dedico um filme a velhos
amigos, e todo mundo pensa que acabei então de retratá-los,
mas eles não eram assim de forma alguma. Isso se tornou
inteiramente romanesco.
Eu
sempre trabalhei meus personagens como discípulo de Godard.
Nouvelle
Vague,
por exemplo, era um filme cujos diálogos, ele havia coescrito
com Anne-Marie Mieville. E víamos claramente que os diálogos
dos homens haviam sido escritos por Godard e os das mulheres por
Anne-Marie Mieville. Isso cria um outro ângulo, me parece:
sentimos realmente que a cena é iniciada pelo homem, mas que a
mulher toma a dianteira, sendo ela que guia a cena.
Ou
então, usando um outro método, às vezes sucede
que colo duas cenas e as confronto: uma cena escrita por uma mulher,
uma cena escrita por um homem - uma espécie de efeito
Koulechov, digamos, no qual a alternância dá uma certa
significação. Agindo assim, é como se eu mudasse
de eixo. De um tempo pra cá, o roteiro é escrito por
minha mulher, Caroline Deruas, que faz os diálogos das
mulheres, e meu dialogista, o poeta e romancista Marc Cholodenko, e
eu escrevemos os diálogos dos homens. As palavras escritas por
minha mulher são em seguida interpretadas pelas mulheres.
Assim, elas se comunicam entre elas.
Isso
permite que você saiba mais profundamente sobre o desejo que
está na origem do filme?
Esse
desejo é bastante claro, é sempre o mesmo, fazer uma
mulher se sentar numa sala de projeção e lhe dizer:
“Veja, é isso o que eu penso sobre uma mulher”. É
o princípio de Antonioni e de Godard: um homem que se coloca
atrás de uma câmera, uma mulher na frente dela e, de
alguma maneira, dá um jeito para que isso não se torne
um psicodrama. Parte do princípio de que é muito
difícil a comunicação entre um homem e uma
mulher. Quando o filme resulta no trabalho de todos os dois, acho
isso genial. É um avanço incrível com relação
à Hollywood.
O
que acarreta o fato de filmar Louis, seu filho, desde Les amants
réguliers (Os amantes constantes)?
Não
sei...é como quando filmo meu pai: no início, filmar
seu filho, filmar seu pai, é para vê-los.
Assisti-los?
Não,
vê-los. Vê-los mais frequentemente...como se diz:
“Apareça, a gente toma um café, a gente se vê”.
Ver, na primeira acepção. Ter uma relação
que não seja apenas a de uma família, mas da ordem
daquela que você pode ter com verdadeiros amigos. Tecer elos de
artista bastante fortes. Você trabalha com seu filho, com seu
pai, você tem a ocasião de vê-los muito, nos
ensaios, principalmente. Eu ensaio muito. Tornou-se meu método
desde a filmagem de Sauvage
Innocence (Inocência selvagem),
em 2001. Em Un
été brûlant
(Um
verão escaldante)
eu ensaiei todas as semanas, todos os sábados.
Para
que servem esses ensaios?
Bresson,
que utilizava amadores, os fazia ensaiar todos os dias durante três
meses. Ele disse isso no IDHEC. Se você ensaia todos os dias
durante três meses com um amador, você faz dele um ator.
É um passe de mágica.
No
estágio em que estou, tento fazer com que todo mundo consiga
interpretar perfeitamente, desde a primeira tomada. Em duas tomadas,
pode acontecer do ator encontrar um problema. Atualmente, não
posso me privar desse método. Ele dá um outro estilo de
interpretação.
Como
você definiria esse estilo?
Eu
diria que ele entrecruza, em igual proporção, o método
de Stanislavski e o de Dullin (meu pai foi aluno de Dullin), que
consiste em dizer: “Não se deve imitar a si mesmo, mas
estar lá, que sua vida continua, que seus pensamentos não
cessarão”. O ator, você lhe explica a situação
para que ele possa falar com o outro, responder-lhe, na lógica
da situação. E para ter êxito, eu me apoio em
Stanislavski. Dullin é inicialmente uma escolha do ator de
teatro. Não há risco de naturalismo no teatro; o
teatro, é uma situação em si. No cinema, a vida
mantém o ator um pouco mais em equilíbrio, ele pensa
sempre em duas coisas, no cinema e na vida. Dullin escreveu algo
sobre isso. Mas dirigir um ator, é mostrar o caminho, isso não
termina nunca.
São
como se fossem leis definitivas para você?
Primeiramente,
a direção de atores está sempre no condicional.
Como cineasta, você nunca sabe se vai dar certo. Você
acha que “deveria dar”. Mas ninguém pode saber ao
certo. Temos que comprovar no set
de filmagem. Se você tem uma boa impressão no set,
é um primeiro sinal. Na sequência, o resultado, o filme,
envolve muitas coisas e o que surgirá na sala de cinema, o
transformará ainda mais. A cena é sempre um pouco
estranha no set.
Há uma estranheza. E essa estranheza, você não
pode eliminá-la. Quanto mais “afinado” for o
desempenho no set,
menos estranheza haverá na sala de cinema. Para um ator,
permanecer natural, simples e preciso, em meio a cabos, projetores, é
muito duro. Sendo assim, não há um método melhor
do que outro. Cada um tem o seu: (Jacques) Doillon faz muitas tomadas
para aguardar um pequeno “acidente” que recoloque tudo no
presente. Bruno Dumont, não sei como ele faz, mas vendo a
performance dos atores amadores em Flandres,
com uma atuação genial, ele necessariamente tem o seu
método.
Acolher
atrizes que têm uma forte identidade, construída, às
vezes, em um cinema muito longe do seu – pensamos aqui em
Monica Bellucci, Laura Smet, Catherine Deneuve; foi necessário
um ajuste entre elas e o seu cinema?
Não,
eu diria que isso tem mais a ver com a minha prática como
professor. Eu trabalho com meus alunos do Conservatório de
teatro desde Sauvage
innocence (Inocência selvagem). Les amants réguliers (Os
amantes constantes)
foi todo interpretado por meus alunos, sessenta alunos, algo assim –
e os misturando com os atores profissionais, de repente, isso formou
uma turma. E se no centro desta turma, mesmo levando alguém de
fora (não estou falando de Louis, meu filho, já que ele
também foi meu aluno) continua sendo uma turma do
Conservatório. Mesmo se eu colocar a Monica Bellucci no meio
dos alunos. Acontece do mesmo jeito com as coreografias. Minha
coreógrafa, Caroline Marcadé, também é
professora do Conservatório, ela faz os atores dançarem,
eles não são dançarinos; eu lhe pedi para
trabalhar em três de meus filmes desde Sauvage
innocence (Inocência selvagem).
Gosto muito disso.
Para
você é indiferente que essas atrizes já
reconhecidas carreguem uma “memória do cinema” ?
Eu
filmo o papel. Acontece do papel absorver uma parte dessa memória.
Quando Monica Bellucci interpreta o papel de uma atriz da Cinecittá,
é o papel que suporta essa memória lá.
O
mesmo acontece com Laura Smet ?
Sim,
ela é uma jovem estrela convincente, que um fotógrafo
viria fotografar.
Para
filmar um papel de jovem estrela, você precisa que ela seja uma
estrela na vida real?
Algo
assim, sim. Porque para os outros atores/alunos, pode ter um efeito,
uma reação química se colocamos um ator
reconhecido no meio de meus antigos alunos.
Esses
atores/antigos alunos são todos do último ano de
formação?
Não,
são todos antigos alunos, mas escolho dentre eles; aos do
último ano é preferencialmente dado os pequenos papéis,
por exemplo, um agitador que faz barricadas. A atriz Céline
Salette está em um pequeno papel em Les
amants réguliers (Os amantes constantes):
no início do filme, uma garota que chega em um quarto de
empregada. Nós a revemos mais tarde, no salão, quando
eles estão perdidos, desesperados. Depois, progressivamente,
esses jovens alunos alcançam os primeiros papéis.
Céline, para seguir o exemplo dela, teve um dos papéis
principais em
Un été brûlant (Um verão escaldante).
Temos
a impressão que todos os seus filmes trabalham com um estoque
de emoções, de lembranças, baseado em
acontecimentos que você teria vivido, digamos, entre 1968 e
1975. E mesmo se você trabalha para introduzir o presente, seus
filmes têm sempre como alicerce essa parte lá de sua
vida...
São
os anos durante os quais me forjei um método. É o
momento onde aprendi a fazer cinema, a profissão. O momento no
qual eu mesmo montava meus filmes. Eu mesmo fazia frequentemente a
câmera, e aqueles que estavam em torno de mim também
faziam isso pela primeira vez. É o momento em que descobri uma
maneira de fazer cinema, e, necessariamente, desde então,
todos os meus filmes parecem um pouco com isso.
Além
dessa parte material do filme, é a matéria
autobiográfica de seus filmes que visa a questão...
Ah!
Mas isso, é uma outra coisa! Como professor, e
consequentemente como cineasta, trabalho com uma geração
de pessoas que têm vinte/ trinta anos, e dentre eles meu filho.
E quando você dirige um jovem, você o dirige com relação
ao filho que você foi. Isso cria um lugar de entendimento que
reconstrói a época deles com a minha.
Como
por um efeito de consubstanciação?
Sim,
e é normal. Existe uma necessidade de compreender a outra
geração. Há uma ponte a ser atravessada. De
certa forma, sou obrigado a fazer isso com relação à
minha geração. É um pouco como se eu fizesse
desenhos da jovem geração inspirados pelas imagens da
minha geração. Para que ao final haja as duas gerações
no desenho.
Podemos
dizer que, como uma espécie de reviravolta, o fato de que você
tenha vindo falar de acontecimentos de sua vida entre as idades de 20
e 30 anos, tenha sido imposto pelo seu trabalho com atores-alunos
desta idade?
Sim,
é como Doillon e as crianças. No caso dele, são
as crianças que ele melhor dirige. No meu caso, são os
de 20-30 anos. 40 anos, ainda vai muito bem, talvez porque meus
primeiros alunos tenham hoje atingido os 40 anos, já que
comecei esses cursos no Conservatório por volta de 1994 –
dava aulas também de uma forma menos regular no TNS na mesma
época...
A
dança reaparece frequentemente nos seus filmes, desde Sauvage
innocence (Inocência selvagem) passando pelos Amants réguliers
(Os amantes constantes).
Eu
adoro isso. A arte da coreografia. O mesmo se dá com as
gravações de música. Com John Cale, trabalhamos
em frente a uma tela de 35 mm, instalamos um estúdio de
gravação sob a tela, e Cale tocava em sincronia com a
imagem, uma tela imensa diante dele. Adoro ver esse processo se
construir. O cinema é uma arte de equipe. É por esta
razão que o escolhi ao invés da pintura. O pintor fica
só no seu atelier, ou só com o seu modelo. O cinema,
não: é uma indústria, é preciso encontrar
os recursos para a realização e penso que
estranhamente, isso me estimulava. É estranho, mas pensava que
seria mais fácil para mim, me singularizar como cineasta do
que como pintor, precisamente porque esse desafio se impunha: o dever
de convencer a indústria. Como pintor, me via só no
meio de trinta e cinco mil pintores franceses, me via asfixiado.
O
ator está no cerne de seu método? Você diz
frequentemente há alguns anos, que é necessário
se preocupar só com isso, com a performance do ator...
Sim,
noventa por cento da minha atenção é dirigida ao
ator. E mesmo depois, quando monto é sobre os atores que faço
minhas escolhas. Isso equivale na música ao que soa afinado.
Você
procurava igualmente esse ponto de ajuste nos seus filmes mais
distantes da representação da realidade?
Sim,
um rosto deve ser exato.
Assistindo
por exemplo Les Hautes solitudes (Altas solidões), poderíamos
dizer que você procurava mais um abandono do que a performance?
No
sentido em que não sabemos se o filme é
interpretado...? Sim... A ideia original do filme a ser feito, a
presença da câmera, foi aceito. Isso remete, mais uma
vez, à ideia de que o cinema é uma arte de equipe. Eu
não corto um ator na montagem. Essa regra respeita o ator
quando ele consegue ser bom, e é muito importante, porque para
ele, eu sou “o sujeito suposto saber” – o
equivalente ao maestro para um músico. Mas, eu não faço
mais filmes de improvisação porque a indústria
cinematográfica tornou-se muito pesada, cara demais. Tento
realizar filmes que não existem ainda, mas os faço no
interior desta indústria. É daqui para frente o meu
sistema.
A
montagem participa também do método?
Durante
muito tempo, tive uma mesa de montagem na minha casa. Mas Le
Berceau de cristal (O berço de cristal) foi
feito antes, e eu não possuía ainda essa mesa, então
montava na casa do filho de Albert Lamorisse, que havia feito o papel
da criança, no filme Le
ballon rouge (O balão vermelho),
filme este realizado pelo seu pai, que tinha uma mesa. Eu montava na
casa dele. Eu comprei uma mesa de montagem e montei na minha casa Le
voyage au jardin des morts, Le bleu des origines...,
e principalmente L’enfant
secret (A criança secreta),
no qual trabalhei muito na montagem, e sobretudo refilmei algumas
cenas diretamente sobre o dépoli
da mesa de montagem para obter certos aspectos.
Você
montava com alguém?
Não,
montava sozinho. Adorava isso. Agora é diferente, confio tudo
a um montador. Eu monto durante o filme. Enfim, vemos as cópias
com a equipe, o montador está presente. Eu faço uma
segunda projeção das cópias do dia com o
montador. Eu faço algumas observações, e ele me
diz se ele está de acordo. Isso é possível na
medida em que se filma na ordem. De três em três dias,
ele me mostrava como estava. Dessa forma, eu filmo e já tenho
a construção do filme, uma meia hora, uma hora, uma
hora e vinte minutos do filme, assim conheço muito bem o
filme, posso avançar com confiança. E depois, desse
jeito, deixo um pouco mais de liberdade ao montador, eu não
fico com ele na sala de montagem. Truffaut trabalhava dessa forma com
Agnès Guillemot ou com Yann Dedet.
Mas
quando dizem que faço tudo “em uma só tomada”,
é preciso compreender que é o todo de um método.
Porque é ensaiado, porque se dá em uma ordem, porque é
montado na medida em que avança, porque podemos fazer retoques
onde precisar, onde faltar alguma coisa. Foi esse método que
elaborei entre Les
enfants désaccordés (Os jovens desajustados) e L’enfant
secret (A criança secreta),
naquilo que se chamou meu período underground
mas que me permitiu fazer hoje filmes como eu desejo, no âmbito,
no entanto, de um cinema industrial.
Eu
diria que este método é que cria uma ponte entre meus
filmes de agora e aqueles dos anos 1970. Eles se parecem, não
porque eles citam os mesmos acontecimentos, mas porque são
oriundos desse mesmo “todo” que funda o meu método,
da filmagem à montagem.
Fazer
um filme com uma estrela no centro das atenções não
coloca em risco esse sistema econômico?
Ao
contrário. Na lógica de um produtor e dos
financiamentos, um filme aparentemente mais caro é de fato um
filme que lhes custaria, do ponto de vista do dinheiro deles, menos
caro. Eu tomo como exemplo Le
vent de la nuit (O vento da noite):
você não conseguiria bancar um road
movie
entre a Alemanha, Itália e França - usando equipamentos
como um lodder,
e o remorque-travelling
que te permitiria filmar sobre o capô de um carro; apenas com
os recursos do patrocínio. Então, se você não
tivesse a Catherine Deneuve, o filme não iria acontecer. É
o nome dela que garantiu os financiamentos com os quais produzimos o
filme sem extrapolar, no entanto, o orçamento que foi
proposto. A mesma coisa se deu em Um
été brûlant (Um verão escaldante).
A presença de Monica Bellucci permitiu, quatro meses após
o consentimento dela, que o filme se realizasse. Só precisamos
saber em que devemos nos aventurar.
Esse
método é virtuoso?
Meu
método não é caro, foi herdado dos filmes que eu
mesmo produzia como um diretor autoral, em um patamar muito módico,
com uma economia que se parecia mais com a da pintura do que a do
cinema. Mas hoje, esse método é a garantia que meus
produtores não se lançam no vazio com um recurso
financeiro que eles não possuem.